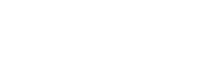
Barão Geraldo - Campinas, São Paulo - Brasil
Cep: 13084-783
Fone: +55 19 3289-5751
Email: idisa@idisa.org.br
2017 – Domingueira da Saúde 003/2017

SUS: O FIM DA ERA DA CENOURA E DA VARA
Lenir Santos[1]
Em 2007 publicamos um livro editado pelo Conasems-Idisa, denominado “SUS: o espaço da gestão inovada e dos consensos interfederativos”[2]; Nele há um capítulo sobre a era da cenoura e da vara[3] numa alusão às transferências federais da União para Estados e Municipais realizadas pela técnica da cenoura e da vara. O SUS, por ser fundado na interdependência e na interconexão de ações e serviços federativos, requer transferências federais e estaduais de recursos para produzir equidade federativa, com diminuição das disparidades regionais, não podendo, entretanto, asfixiar as competências uns dos outros.
Esse modelo sistêmico de organização e funcionamento dos serviços requereu de servidores e especialistas desde 1990, a montagem de um quebra cabeça que mantivesse os serviços descentralizados em 5.570 municípios e integrados em regiões, sem que o ente federativo perdesse sua autonomia administrativa. Isso deu origem à gestão compartilhada que exigiu a criação das instâncias de deliberação interfederativa para o adequado manejo da rede interfederativa de serviços e governança interfederativa.
Durante a vigência da NOB 1, 93, editada pelo Ministério da Saúde, o rateio de recursos para os entes subnacionais era feito em acordo à condição de gestão declarada pelo próprio ente e pactuada nos fóruns de deliberação interfederativa. A partir da edição, em 1996, da NOB que a sucedeu, foram criadas duas modalidades de gestão visando garantir à esfera federal o poder de integrar os sistemas municipais de saúde que se dizia fracionados pelo processo da descentralização.
Entretanto, o fio condutor que o Ministério da Saúde pretendeu ser na ocasião, não se ateve ao planejamento estratégico dos entes federativos que deveriam pautar seus planos de saúde de modo integrado e garantir que o plano nacional de saúde pudesse ser o definidor de metas e indicadores em âmbito nacional, os quais deveriam nortear a construção nos estados e municípios desses documentos (regionais e locais), para a garantia de um SUS sistêmico e interfederativo.
À época foram criados mecanismos que resultaram na fragmentação da aplicação dos recursos federais. Ao mesmo tempo em que se aprofundou a descentralização, também se aprofundou a negociação direta entre município e União fazendo surgir a habilitação dos entes federativos perante o Ministério da Saúde, o que levou a mitigação das competências federativas desses entes que passaram, na prática, a ser vistos como prestadores de serviços da União e não como entes autônomos integrados num mesmo sistema.
O município não habilitado não era considerado dirigente do SUS, o que se constituía uma aberração jurídica e a assim foi-se aprofundando a fragmentação do repasse de recursos federais aos demais entes federativos que chegou a ter 100 modalidades de transferências à época (hoje são mais de 200), com abandono do planejamento ascendente-integrado e plano de saúde em acordo às realidades locais e regionais.
Conforme o nível da gestão retirava-se poderes do ente federativo. Outro grave equívoco foi impedir que municípios de pequeno porte assumissem a gestão plena de seu sistema municipal, uma vez que somente aqueles que fossem “habilitados” poderiam fazê-lo. Habilitar ente federativo perante o Ministério da Saúde para considerá-lo um gestor do SUS, se constitui uma grave ofensa ao pacto federativo.
Assim a rota do rateio dos recursos da União para os estados e municípios passou a ser regramentos portariais do Ministério da Saúde, nos mínimos detalhes operativos, ferindo poderes municipais e também permitindo que os estados se distanciassem do conjunto dos seus municípios, afrontando o modelo de região de saúde e rede sistêmica que exige presença constante do Estado.
Isso trouxe nefastas consequências, como o controle interno e externo das contas dos gestores que, em grande maioria, periodicamente devolviam recursos, as famosas ordens de recolhimento do FNS (OR), por terem atendidos a necessidade local em contraponto aos regramentos federais. Esse modelo de transferência de recursos desconsiderava as realidades e necessidades locais e os planos de saúde. O planejamento e os planos de saúde perderam o seu significado verdadeiro para ser um apanhado dos programas e projetos ministeriais conforme fossem os repasses de recursos.
Nesse passo, importante lembrar que são duas as classificações para o uso do dinheiro público, conforme a Lei 4.320, de 1964: custeio e capital. O que ocorria em âmbito federal era a imposição de regras e standarts quanto ao uso dos recursos de custeio e de capital a ponto de considerarem como capital, despesas de manutenção e conservação de bens de capital que a própria Lei 4.320 classifica como despesas de custeio. A transferência dos recursos observava, a partir de 2007, os critérios da Portaria 204, com seis blocos de transferências, contudo o uso dos recursos de cada bloco continuou a observar as inúmeras regras anteriores (e outras novas). Assim os recursos de custeio e de investimentos eram regrados em minúcias em mais de 230 “caixinhas”. Gilson Carvalho à época dizia que além das caixinhas, agora havia os caixões.
Em 2011, o Decreto 7.508, que regulamentou a Lei 8.080 em determinados aspectos como a região de saúde, as comissões intergestores, as portas de entrada do SUS, visava também por fim ao fracionamento do repasse. Ao propor o contrato de ação pública da saúde, um acordo interfederativo regionalizado, que organizava a gestão compartilhada na região, dava garantias às obrigações dos três entes federativos pactuadas regionalmente, o que poderia permitiria prescindir-se das “caixinhas” criadas para instituir controle dos atos de gestão do ente federativo e induzir políticas. Políticas públicas não se induzem; elas são obrigatórias para o Poder Público, tanto que o art. 174 da Constituição reza que o planejamento é determinante para o Poder Público.
Com a edição, em 2012, da Lei Complementar 141, regrou-se novamente a forma de rateio dos recursos federais e dos recursos estaduais, mantidos os critérios do art. 35 da Lei 8.080 e revogando os da Lei 8.142. O rateio deve agora observar os critérios ali explicitados, com as metodologias de cálculo a serem definidas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e aprovadas no Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Para se cumprir a LC 141, devolvendo-se aos entes federativos sua autonomia administrativa, garantindo rateio pelos critérios legais e segurança jurídica às obrigações assumidas pelos entes na região, impõe-se revogar a Portaria 204, de 2007, pondo fim aos critérios que não observam a LC.
Para tentar simplificar o que reza o art. 17 da LC 141, podemos dizer que são 14 critérios de rateio, que por agrupamento ante suas identidades, são 06. Esses 06 critérios foram agrupados em três níveis de transferências[4]:
1. Necessidades de saúde, critério equalizador das desigualdades socioeconômicas, demográficas, geográficas e epidemiológicas que deve ter metodologia de cálculo pactuada na CIT, criando um per capita de equidade federativa a ser aplicado em acordo aos planos de saúde dos entes federativos conforme as suas realidades;
2. Financiamento da rede de serviços dos entes federativos, somando-se todos os valores que hoje financiam essas redes, em acordo à sua organização atual; aqui a memória de cálculo do FNS é ponto de partida.
3. Desempenho da gestão dos entes federativos no ano anterior, tanto valorizando quem teve boa gestão, como se preocupando com aquele que ainda não chegou à linha mínima admissível na organização de serviço. A metodologia há de ser aprovada pela CIT e depois submetida ao CNS.
Resumidamente, podemos afirmar que as transferências interfederativas devem ater-se aos critérios legais para definir o quantum caberá aos entes federativos; recebidos os recursos para custeio e investimento em ações e serviços de saúde, deve-se observar obrigatoriamente o disposto no plano de saúde local e regional, devendo o plano nacional de saúde, de longo prazo, atuar como matriz orientadora das necessidades gerais de saúde no país, conforme planejamento integrado-ascendente, sendo elo nacional, sistêmico e harmonizador de todos os planos de saúde, que conforme a Lei 8.080, são a base de todas as atividades em saúde federal, estadual e municipal, na forma do disposto na Lei 8.080.
Há tempos vimos debatendo a necessidade de “desfederalizar” o SUS; deixar de impor programas e projetos federais para o repasse de recursos, exigindo-se prestação de contas tal qual um convênio. O repasse direto e automático sempre foi ferido por esconder em seu âmago práticas conveniais próprias das transferências voluntárias, estas sim, podem ter práticas da cenoura e da vara; mas não as obrigatórias, como é o caso do SUS que devem se pautar pelos critérios da lei.
A decisão do Ministério da Saúde pactuada na primeira reunião da CIT de 2017 é necessária e louvável para que o rateio dos recursos federais retome o caminho perdido nos anos 90 (que custou caro a muitos gestores que não tiveram suas contas aprovadas porque não cumprirem um item de uma portaria determinada que, na realidade, se imiscuía na gestão municipal ou estadual).
Não é sem tempo que o SUS precisa voltar a ser um sistema de gestão fundada em planejamento local e regional; planos de saúde e programação anual, sendo o plano nacional de saúde o elo nessa cadeia, o qual deve retratar as necessidades de saúde em âmbito nacional, discutido e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, fixando-se as grandes metas de saúde em âmbito nacional.
Que o planejamento local e regional seja fortalecido, atuando o Ministério da Saúde na capacitação e cooperação técnica; que o conhecimento normativo do SUS seja ampliado, com disseminação de suas regras constitucionais e legais, deixando-se para traz o furor normativo infralegal; as normas constitucionais e legais foram ficando para traz, deixando de ser conhecidas a contento pelos gestores em razão do pelo peso das centenas de portarias que as obscureceram por duas décadas; que o apoio técnico do Ministério da Saúde se faça presente onde for necessário, pois essa é uma de suas atribuições constitucionais; que o controle e a avaliação sistêmica e de qualidade sejam efetivas e construtivas.
É preciso que os três entes federativos – União, Estados e Municípios – se debrucem sobre essa árdua tarefa de cumprir a lei e que todos que lutaram para “desfederalizar” o SUS atuem de forma harmônica para um SUS de gestão sistêmica e autônoma.
[1] Advogada em gestão pública e direito sanitário; doutora em saúde pública pela Unicamp; e coordenadora do curso de especialização em direito sanitário do IDISA-Sírio Libanês.
[2] Escrito em coautoria com Luiz Odorico Monteiro de Andrade.
[3] Esse título do capitulo do livro era uma alusão à citação de um escritor norte-americano Eric Stein quanto aos fundos voluntários oferecidos por aquele governo que impõe regras e standarts federais, denominado na gíria americana como a técnica da cenoura e da vara.
[4] Resultado do estudo produzido pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Saúde do qual fiz parte desde seu início em 2012 e que depois contou com a participação de Aquilas Mendes, que nos permitiu fazer reflexões que publicamos conjuntamente.
![]() Domingueira da Saúde - 003 2017 - 03 02 2017
Domingueira da Saúde - 003 2017 - 03 02 2017
