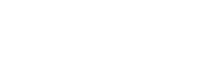
Endereço: Rua José Antônio Marinho, 450
Barão Geraldo - Campinas, São Paulo - Brasil
Cep: 13084-783
Fone: +55 19 3289-5751
Email: idisa@idisa.org.br
Barão Geraldo - Campinas, São Paulo - Brasil
Cep: 13084-783
Fone: +55 19 3289-5751
Email: idisa@idisa.org.br
Saúde, frente e verso
A visão recorrente de atendimento precário em prontos-socorros contrasta com avanços significativos na qualidade de serviços que o SUS também presta a milhões de brasileiros
Arlindo Almeida, das empresas de planos de saúde: "É ilusório acreditar que seja possível viver só com o SUS ou só com o sistema privado. O SUS sozinho não se sustenta. É necessário fazer um mix"
Alexandre Padilha: "Melhorar a qualidade dos gastos é um desafio permanente, tanto para aprimorar a gestão quanto para combater a corrupção"
Universal na letra, o sistema de saúde enveredou por uma fórmula público-privada, com rumos em permanente discussão. Por Flávia Tavares, para o Valor de Brasília
A médica pediatra Sonia Maria Santana Stender foi morta a tiros, domingo, após terminar seu plantão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A polícia considera a hipótese de que o crime tenha sido cometido por alguém descontente com o tratamento dispensado pela médica a um parente. Outros médicos dizem que são rotineiras as ameaças e agressões verbais que sofrem durante o trabalho no pronto-socorro, vindas de pessoas insatisfeitas com o atendimento.
Foi em 1988 que a Constituição brasileira decretou que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Na teoria, os cidadãos teriam direito a uma grande carteira de serviços de saúde oferecidos pelo Estado, que teria, portanto, o dever de fornecê-los. É difícil encontrar especialista que não elogie o princípio estabelecido na concepção do SUS. O ideal de um sistema público universal e equânime é, no mínimo, admirável. Sua aplicação, no entanto, constitui-se numa das questões mais complexas com que devem lidar os formuladores de políticas públicas no país. Na prática, o que se tem é um sistema híbrido e pouco funcional, econômica e socialmente, em que serviços públicos e privados coexistem sob o manto pesado de críticas que ensombrecem áreas de eficiência e mesmo de excelência.
Prestes a completar 25 anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) pode parecer inviável. As imagens recorrentes da saúde pública são as de macas nos corredores de hospitais superlotados e doentes em filas, à espera de consultas e exames. Contudo, também se comprovam avanços, que não encontram contestação sequer entre os críticos de um sistema que, hoje, inclui milhões de pessoas que não teriam acesso a serviços públicos de saúde - eles próprios ampliados e melhorados -, antes reservados aos beneficiários do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).
A universalidade inscrita na Constituição continua sendo um objetivo envolto em espessa camada de incerteza - quanto ao próprio alcance da distribuição dos serviços, em termos quantitativos, ditados pelo contexto da dinâmica econômica e social, mas também no debate a respeito de sua importância para a conquista, pelo país, de graus superiores de desenvolvimento em sentido amplo.
É ilusório acreditar que seja possível viver apenas com o SUS ou com o sistema privado. O SUS sozinho não se sustenta. É necessário fazer um mix, diz Arlindo de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), que representa cerca de 250 operadoras de planos de saúde.
Com a melhora da qualidade, toda a sociedade passa a defender o SUS, e não corremos o risco de o sistema se enfraquecer.
Na prática, esse arranjo já existe, mas tem se desequilibrado nos últimos anos, pendendo para um peso maior dos serviços privados. De acordo com o relatório Estatísticas de Saúde Mundiais 2011, da Organização Mundial de Saúde (OMS), os gastos com saúde no Brasil foram, em 2008, 44% públicos e 56% privados. No Reino Unido, os gastos públicos foram de 83%. A proporção aqui é crítica porque o sistema privado atende cerca de 48 milhões de brasileiros, enquanto o público se destina - ao menos segundo a letra da Constituição - à totalidade dos 192 milhões.
Embora o Brasil tenha tido um gasto total com saúde de 9% de seu PIB em 2009, próximo da média mundial, o porcentual do orçamento do governo destinado à área foi de 6,1%. Na Argentina, chegou a 14,6%; no Chile, a 15%; na Alemanha, a 18%. Também se podem fazer estas comparações: enquanto o gasto per capita com saúde no Brasil foi de US$ 335, chegou a US$ 485 na Argentina, US$ 368 no Chile, US$ 3,5 mil na Alemanha.
A consequência é que o SUS fica direcionado quase exclusivamente aos pobres. E quanto mais de pobre for o SUS, mais enfraquecido politicamente ele fica, diz Eugênio Vilaça Mendes, consultor em saúde pública. É praticamente intuitivo: não se discute a relevância, por exemplo, da contribuição dos serviços de saúde, mesmo com suas conhecidas precariedades, para a contabilização de significativas elevações no tempo médio de vida dos brasileiros ou na redução da mortalidade infantil; mas as questões relativas à qualidade e à distribuição desses serviços, elas próprias e a orientação que sua discussão tende a ganhar, inclusive no âmbito parlamentar, têm evidente dimensão política.
O gasto per capita no Brasil, no sistema privado, chega a US$ 1 mil por ano, segundo a OMS. Não é à toa que um plano de saúde está entre os desejos prioritários de quem entra no mercado formal de trabalho ou começa a ganhar um pouco mais (aproximadamente 80% dos planos são coletivos).
Enquanto aguardava para fazer a radiografia de uma hérnia de disco há mais de uma hora, no Hospital de Base de Brasília, a cozinheira Antonia de Souza, de 42 anos, sonhava em embarcar no sistema privado para escapar das agruras do público. Se eu ganhasse pelo menos R$ 1 mil por mês, faria um plano. Minha filha foi contratada na empresa e vai ter. Já falei para ela aproveitar, fazer um check-up. A hérnia de Antonia não é considerada uma emergência e, assim, desde 2007, ela enfrenta espera para realizar consultas e exames e não consegue manter o acompanhamento com um médico só. Se não conseguisse essa consulta nos próximos dias, só teria no ano que vem.
O caso de Antonia resume outras deficiências do sistema de saúde. A primeira é a da gestão dos recursos. Se o dinheiro é insuficiente, o que é feito dele é ainda mais problemático, seja na saúde pública ou na privada. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reconhece ser esse um dos maiores problemas da área. Melhorar a qualidade dos gastos é um desafio permanente, tanto para aprimorar a gestão quanto para combater a corrupção. Para isso, o Ministério desenvolveu alguns mecanismos e aposta na parceria com hospitais e entidades privadas para administrar parte do ativo público, por meio das organizações sociais de saúde (OSS), entidades sem fins lucrativos que firmam parcerias com governos estaduais e municipais. Hoje, quase metade dos leitos do SUS está em hospitais filantrópicos ou particulares. O fundamental é que o controle do acesso a esses leitos permaneça público, para evitar desigualdade nesse acesso e monitorar o desperdício de recursos, diz Padilha.
O cartão do SUS, com mais de 130 milhões de pessoas já cadastradas, ajuda a acompanhar os procedimentos pelos quais os pacientes passam, além de outros controles. Criada no fim do ano passado, a Carta SUS, espécie de carta-resposta enviada a quem passou por uma unidade de atendimento pública, já recebeu 5 milhões de avaliações - entre elas, 360 denúncias de irregularidades, que levaram ao descredenciamento de clínicas e à punição de médicos que cobravam por fora para acelerar o atendimento. Também em 2011, o Ministério modificou seus processos na compra de medicamentos e conseguiu uma economia de R$ 1,8 bilhão. Com essa verba, criou um dos programas de maior sucesso do SUS, o Saúde Não Tem Preço, que distribui gratuitamente remédios para diabetes, hipertensão e asma em 20 mil farmácias populares.
Engana-se quem acredita que a ineficiência de gestão na saúde seja uma doença tropical. Um estudo de 2008 mostra que, nos Estados Unidos, um terço dos gastos em saúde correspondem a recursos jogados fora. É um número mágico, que aparece em outros países, diz Bernard Couttolenc, PHD em economia da saúde pela Universidade Johns Hopkins e autor do estudo Desempenho hospitalar brasileiro, feito para o Banco Mundial. Tanto em hospitais públicos como em privados, gasta-se muito com procedimentos de alto custo que beneficiam poucos, o nível de controle de gastos é baixíssimo, e mais de 90% dos profissionais de saúde não sabem o custo de cada serviço, acrescenta. Couttolenc acredita que, se estivessem informados sobre custos, esses profissionais talvez evitassem pedir procedimentos desnecessários.
Outra deficiência que o caso de Antonia revela é a da relação médico-paciente, desgastada e quase inexistente num processo em que o profissional tem de dar conta de dezenas de doentes por dia, tanto quando é pago pelo SUS como quando é reembolsado pelos planos de saúde. No SUS, a questão inclui a troca de médico no decorrer de um mesmo atendimento. E, tanto no setor público como no privado, a divergência entre o que os médicos recebem e o que acham que deveriam receber alimenta atritos que geralmente resultam em prejuízo para a qualidade do atendimento.
Colegas aceitaram atender em municípios onde não tinham nem água para lavar as mãos. Que médico quer trabalhar assim?
Na soma, questiona-se se o Brasil tem poucos médicos, muitos médicos mal formados ou muitos médicos concentrados em poucas cidades e centros mais urbanizados. O presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Florentino Cardoso, garante que o país tem um contingente suficiente de profissionais para atender a população.
Segundo a OMS, em 2010, o Brasil tinha 1,7 médicos para cada mil habitantes. Cardoso atualiza o dado para 1,9/1 mil habitantes. Em Brasília, são 4,1; em Vitória e no Rio, são 4. Os números são bons, a quantidade é razoável. O problema é a qualidade e a distribuição, explica. Embora diga que a medicina brasileira é avançada e uma das melhores do mundo, Cardoso critica o que considera a péssima formação que os estudantes recebem nas faculdades, abertas pelo país sem muito critério, sem hospitais-escola e sem professores competentes. Nos grandes centros, onde o profissional tem estrutura e pode se reciclar, o atendimento ainda tem alguma qualidade. Mas nas pequenas cidades a situação está muito complicada. Tenho relatos de colegas que aceitaram atender em municípios sem infraestrutura alguma e não tinham nem água para lavar as mãos. Que médico quer trabalhar assim? Além disso, o SUS tem pouco dinheiro. Não conseguiria pagar os melhores médicos que se dispusessem a trabalhar lá.
Segue na mesma linha o discurso de Antonio Carlos Lopes, diretor da Escola Paulista de Medicina e presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica: Os médicos têm pouco tempo e muitos atendimentos. A relação com o paciente se deteriora e a consequência é a superlotação dos prontos-socorros, aonde o doente vai para tratar apenas o sintoma. A crítica de Lopes à formação de novos médicos vai além dos critérios técnicos e se estende ao aspecto humano. O médico tem que gostar de gente. A seleção deve ser mais rigorosa. Tem que ter vocação e formação ética, moral e emocional. Já tive aluno até esquizofrênico, imagine.
O estreitamento da relação entre médicos e pacientes é ponto-chave no que o ministro Padilha acredita ser, de fato, o maior desafio do SUS: a melhora da qualidade no atendimento. Soma-se a isso a diminuição no tempo de espera por consultas, exames e cirurgias eletivas no sistema. Essa tem que ser nossa obsessão. Com a melhora da qualidade, toda a sociedade passa a defender o SUS, e não corremos o risco de o sistema se enfraquecer. Isso porque, continua o ministro, mesmo sem perceber, até aqueles que têm os mais caros planos de saúde são usuários do SUS, seja no atendimento a emergências e na utilização de ambulâncias do Samu, seja para transfusão de sangue, controlada pelo Estado, ou nas filas de transplantes, também a cargo do governo, nos programas de vacinação, ou ainda nos benefícios da Vigilância Sanitária, uma das atribuições invisíveis do SUS a que todos têm direito.
Não há nenhum setor brasileiro que pregue um sistema integralmente privado, como nos Estados Unidos, diz Padilha. A importância do SUS não é só social, é também econômica, já que um sistema universal público como o nosso permite o desenvolvimento de tecnologias e mercados, como o de equipamentos odontológicos, por conta do programa Brasil Sorridente, de saúde bucal, que atende mais de 100 milhões de pessoas, a indústria de genéricos e a produção de vacinas, em que 96% das doses já são fabricadas nacionalmente. Além disso, é o governo que controla, por meio da Agência Nacional de Saúde (ANS), a qualidade dos planos oferecidos pelas operadoras. A entrada na saúde suplementar nem sempre quer dizer a conquista de um atendimento de qualidade. Por isso, suspendemos 268 planos em julho. Com mais qualidade no SUS, podemos conquistar usuários que não precisariam sair do sistema público, não para competir com os planos, mas para atender às necessidades da população.
Essa melhora seria um santo remédio para o funcionário público aposentado Manuel, que não quis dar seu sobrenome. Aos 79 anos, ele paga um plano de saúde para si e para a mulher e gasta quase R$ 1 mil por mês. Não teve condições de incluir a sogra no pacote e, assim, usa o SUS para o tratamento dos problemas cardíacos dela. É muito trabalhoso com as filas para consultas e tudo. Mas com diálogo e paciência é possível ter um bom atendimento no SUS. O problema é que os hospitais públicos são a única alternativa para gente que não tem mais nada na vida. Pode reparar que só tem gente feia e pobre aqui, diz, enquanto aguarda um médico para a sogra no Hospital de Base de Brasília.
São deficiências que contrastam com os números dos programas Brasil Sorridente, de saúde bucal, e Saúde da Família, com 32 mil equipes pelo Brasil, que abrangem mais de 100 milhões de pessoas; Farmácia Popular, com distribuição de remédios gratuitos; o programa de tratamento da aids; os amplos programas de vacinação. São exemplos que Padilha cita como iniciativas-modelo. Mas nenhum lhe parece uma vitrine tão convincente, seja pela abrangência, pela qualidade ou pela equidade, quanto o programa de transplantes de órgãos. Só em 2011, foram 23 mil. É um recorde mundial.
Andréa Teixeira Soares, professora aposentada de 49 anos, de São Paulo, tem uma história para contar. Os primeiros sinais de sua doença hepática surgiram aos 24 anos. Ela andou de médico em médico de seu convênio, durante anos, sem conseguir descobrir o que tinha de fato. Perdeu três gestações. Até descobrir que podia se tratar no Hospital das Clínicas (HC), um dos centros de excelência mais representativos do sistema público de saúde. A primeira consulta foi em 1992. Seis anos mais tarde, depois de uma quase falência do fígado, Andréa entrou na fila para realização do transplante, que aconteceu em 2000. Trata-se até hoje no HC. Mas agora, pelo convênio, para não tirar vaga de ninguém [Ela quer dizer com isso que deixa o atendimento gratuito para uso de outros, que ainda não podem prescindir do SUS].
Andréa experimentou o que há de melhor em atendimento público no país. No meu andar, tinha gente com convênio e sem, o serviço era o mesmo, com especialistas fantásticos, acesso à medicação gratuita no pós-transplante. Coisa de primeiro mundo. Andréa sabe que isso é privilégio dos transplantados. Tanto que coordena uma ONG para pacientes com doenças hepáticas e lida com a burocracia para conseguir marcar consultas e cirurgias para quem ainda não precisa de transplante. Essa excelência que eu vivi tem de ser descentralizada. Não pode ser só em São Paulo, não pode ser só para transplante. É por isso que lutamos.
Descentralizar a excelência não é fácil. Quando se pensa em medicina e atendimento de ponta, rapidamente vêm à mente nomes como Albert Einstein, Sírio-Libanês. Difícil é lembrar de um grande hospital de Belém ou Macapá. Prova disso é a geografia dos 46 hospitais de primeira linha representados pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp): 29 estão no Sudeste, 7 no Nordeste, 5 no Sul, 4 no Centro-Oeste e 1 no Norte. Garantir a qualidade também exige esforços e investimentos. Os hospitais privados estão sobrecarregados, com o aumento drástico na venda de planos de saúde. A grande maioria das estruturas hospitalares não está preparada para esse estouro da demanda. As operadoras têm vendido planos a R$ 50 mensais e não há como entregar serviços bons a esse preço, diz Francisco Balestrin, presidente da Anahp.
Tanto em hospitais públicos como privados gasta-se muito com procedimentos de alto custo que beneficiam poucos.
A falta de estrutura fica ainda mais evidente quando se levam em conta as acreditações dos hospitais. São quatro tipos de acreditação possíveis, três delas internacionais. De acordo com o estudo Desempenho hospitalar brasileiro, de Bernard Couttolenc, dos 7.426 hospitais brasileiros, apenas 56 têm selo de qualidade: 43 estão no Sudeste, 8 no Sul, 2 no Centro-Oeste e 3 no Nordeste. No Norte, não há nenhum. Hoje, os hospitais de ponta trabalham com modelos de governança corporativa, transparência, responsabilização e sustentabilidade. Queremos expandir essa base de gestão e, para isso, trabalhamos para dividir esse conhecimento com o sistema público, acrescenta Balestrin. Para nós, não interessa um SUS enfraquecido, porque não conseguiríamos atender a todos. E não interessa que planos sejam vendidos muito baratos, porque não haveria como fornecer o serviço a esses preços. Queremos a boa convivência entre público e privado.
A obsessão do ministro Padilha pela melhora da qualidade do atendimento também tem rendido algumas iniciativas mais recentes. Uma delas é a rede Saúde Mais Perto de Você, com foco na atenção básica, ponto de entrada do SUS. A ação inclui a construção de 3 mil Unidades Básicas de Saúde, a ampliação de 5 mil, e a reforma completa de outras 5 mil. O Ministério da Saúde também está monitorando 17,5 mil equipes de atenção básica e pode até dobrar os recursos das mais bem avaliadas. O foco na atenção básica é fundamental, porque previne as doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Como a população está envelhecendo, esse vai ser um grande problema no futuro, que pode ser minimizado com investimentos agora, diz Eugênio Vilaça Mendes.
Para diminuir as filas de cirurgias, o Ministério da Saúde investirá R$ 650 milhões, em 2012, para realização das eletivas. Os recursos são aplicados nas especialidades de maior demanda e naquelas escolhidas pelos gestores locais, conforme a realidade de suas regiões. Daquele total, R$ 50 milhões serão destinados à realização de cirurgias de catarata (as de maior demanda) em 2.555 municípios que possuem 10% ou mais da população em situação de extrema pobreza. Por fim, o SOS Emergências busca melhorar a gestão e a oferta de leitos em 12 grandes hospitais de dez capitais. Até 2014, a meta é atender os 40 maiores prontos-socorros do país. Cada um dos 12 hospitais receberá anualmente R$ 3,6 milhões do Ministério da Saúde para aprimorar a assistência de emergência. Também poderão receber até R$ 3 milhões para compra de equipamentos e realização de obras no pronto-socorro.
O Hospital de Base de Brasília está incluído no programa e já tem mostrado serviço. Teve uma reforma boa aqui, melhorou muito, atesta o aposentado Manuel, no dia da consulta da sogra. A direção também criou uma central que administra a distribuição de leitos e, com isso, acabou com as mais de 200 macas que ficavam pelos corredores. E testa agora um projeto-piloto de agendamento aberto de consultas, para agilizar o processo, e lançou um mutirão para a realização de 16 mil cirurgias eletivas em dez meses.
Tudo isso faz a gente ter a certeza de que o sistema brasileiro de saúde é hoje infinitamente melhor do que há 20 anos. Desejamos que melhore muito mais nos próximos 20, diz Bernard Couttolenc. A discussão sobre uma reformulação e o fortalecimento do SUS e sobre a preponderância do sistema privado continua.
Fonte: Valor Econômico

Copyright © . IDISA . Desenvolvido por W2F Publicidade