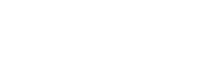
Barão Geraldo - Campinas, São Paulo - Brasil
Cep: 13084-783
Fone: +55 19 3289-5751
Email: idisa@idisa.org.br
2016 - Domingueira da Saúde 025/2016

025/2016 – DOMINGUEIRA DE 28/08/2016
FINANCIAMENTO DA SAÚDE: 28 ANOS DE INCIDENTES DE PERCURSO
Lenir Santos
Élida Graziane
Áquilas Mendes
Francisco Funcia
Obstáculos públicos para o não cumprimento do direito à saúde remontam à Constituição de 1988 que formalizou novo pacto social e estabeleceu, em acordo à vontade soberano do povo, que saúde é direito dos cidadãos, de modo universal e igualitário e responsabilidade do Estado.
O desrespeito ao Pacto Social de 1988 começou com a inclusão de despesas não próprias da saúde, como inativos, alimentação, saneamento, merenda escolar, assistência médica e odontológica dos servidores federais, que reduziram os 30% do orçamento da seguridade social, previstos no art. 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e nas leis de diretrizes orçamentárias (LDO) de 1989 a 1993, em 20%.
A primeira grave crise do financiamento do SUS ocorreu em 1994, quando o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) assumiu publicamente que reteria no Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) os recursos da saúde ante às insuficiências do caixa da Previdência para custear benefícios previdenciários (que teriam que ser cobertas com recursos do Tesouro Nacional). Na ocasião, o Procurador Geral da República[1] interveio em resposta à representação de entidades para apurar possível violação de direito fundamental pelo constrangimento orçamentário (LDO e Lei Orçamentária Anual-LOA). A solução engendrada pelo governo foi um empréstimo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ao Ministério da Saúde, pago com recursos do orçamento da saúde (2 bilhões de dólares), por dívida gerada pelo MPAS.
Na época, pretendia-se rebaixar o gasto per capita brasileiro da saúde de 80 dólares anuais para 38 dólares, quando a OMS preconizava o mínimo de 250 dólares e os países desenvolvidos aplicavam por volta de mil dólares. Somente após a intervenção do Procurador Geral da República com a instauração de inquérito civil público federal contra a União, os repasses voltaram a ser realizados.
No mesmo ano, o Fundo Social de Emergência (FSE), que estava sendo criado em razão do Plano de Estabilização do Governo, antes mesmo de ter sido aprovado por Emenda Constitucional, subtraindo 20% do total das receitas da seguridade social, teve vigência por Medida Provisória, com retenção de 50% dos recursos da saúde, deixando-a em estado de insolvência. Essa foi, aliás, a origem da perversa desvinculação de receitas da União, a DRU, que, desde então, tem sido “perpetuada” sob o título de “provisória” (22 anos!), com variação de nomes e artigos inseridos no ADCT. São oito Emendas, sempre defendidas pelos sucessivos governos como “temporárias” e “excepcionais” desde 1994.
Essas tentativas de desconstrução do direito pela via orçamentária levou o Congresso Nacional, no ano de 2000, após intensas propostas das entidades de defesa do SUS, a aprovar como medida de segurança, a Emenda Constitucional (EC) 29, que vinculou percentuais mínimos de recursos para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Aos estados e municípios ficou determinado a aplicação de, no mínimo, 12% e 15%, respectivamente, de suas receitas de impostos, compreendidas as transferências constitucionais. À União, coube a aplicação do valor apurado no ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB. 12 anos depois, foi aprovada a sua regulamentação, Lei Complementar 141/ 2012 que manteve as bases de cálculo das três esferas de governo, exceto quanto à exclusão de determinadas despesas que não foram mais consideradas como ações e serviços de saúde para efeito da aplicação mínima dos recursos, como exemplo, assistência médica de servidores, despesas com saneamento não aprovadas pelos conselhos de saúde, investimentos oriundos de operação de crédito (somente os valores das suas prestações é que deveriam ser computados pelo tempo de sua amortização).
Em 2013, o projeto de lei de iniciativa popular (PLP 321/2013), denominado “Saúde mais 10”, pretendia garantir 10% da Receita Corrente Bruta (RCB) da União para as ações e serviços públicos de saúde; apesar dos 2,2 milhões de assinaturas não teve apoio do governo federal, tendo sido rejeitado pelo Congresso Nacional que aprovou em seu lugar da EC 86/2015, que reduziu o piso da União para o ano de 2016, fixando-o em 13,2% da Receita Corrente Líquida (RCL), em comparação aos valores empenhados em 2014 (14,3%) e 2015 (14,8%).
Essa nova emenda constitucional alterou a regra da EC 29/2000, cuja base de cálculo era o montante aplicado (empenhado) no ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB; a partir de 2016, o valor da aplicação mínima seria apurado como um percentual da RCL, de forma escalonada, em cinco anos: 13,2% para o ano de 2016 até alcançar 15% no quinto exercício financeiro.
Assim, foi fixado novo piso federal para a saúde de 15% da receita corrente líquida para ser atingido em 2020, com subpisos, de 2016 a 2019, sempre a pretexto de “progressivo” (?) alcance de novo patamar, o que, na verdade, consolida uma clara inversão de “piso” para “teto”, como é possível deduzir dos dados da execução orçamentária e financeira do Ministério da Saúde, a partir da vigência da EC 29/2000 .
Esses 28 anos de direito à saúde e baixo financiamento demonstram que a vinculação de receitas é medida de segurança para a eficácia do direito, mediante a aplicação anual de valores mínimos, ante o processo histórico de seu descumprimento pela via do orçamento, sob os pretextos de ocasião. Ante a concretude do permanente desfinanciamento da saúde, a vinculação é remédio preventivo, acima de tudo.
Nessa perspectiva e no contrafluxo da tendência de retrocessos, uma tentativa de tornar efetivo o direito, tramita desde 2015, na Câmara dos Deputados, a PEC 01/2015, aprovada em primeiro turno por 402 votos favoráveis e apenas um contrário, no mês de março/2016, que estabelece o aumento escalonado dos percentuais alocados para o financiamento do SUS, de 14,8% da RCL (correspondente aos valores aplicados em 2015) até atingir, após sete anos, 19,4% da RCL.
Contudo, a incoerência dos governantes e legisladores impera, na medida em que são apresentadas duas propostas restritivas de recursos que causarão danos diretos e indiretos para o financiamento da saúde pública. Uma delas, aproximadamente quatro meses depois da aprovação da PEC 01/2015, trata do estrangulamento do direito à saúde e dos demais direitos sociais, congelando seu insuficiente piso por vinte anos, a partir da referência de 2016 (atualizado pela variação anual da taxa de inflação medida pelo IPCA) pela PEC 241/2016 (Novo Regime Fiscal).
Por coerência e responsabilidade, e por ter jurado cumprir a Constituição, cabe ao Congresso Nacional aprovar a PEC 01/2015 para que se restaure a progressividade real do piso da União em saúde e rejeitar a PEC 241/2016 pelos danos que causará à qualidade de vida da população, com a redução de ações governamentais nas áreas dos direitos sociais e que deteriorarão as condições de saúde da população, lato senso, conforme conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS). A PEC 241/2016 poderá ainda inviabilizar o pagamento do elevado estoque de restos a pagar, contabilizados como gasto em ações e serviços públicos de saúde em anos anteriores.
Outra proposta em tramitação trata da desvinculação parcial de recursos tanto pela PEC 143, de 2015, já aprovada, que renova a DRU, mas amplia a alíquota de 20% para 25%, e cria a Desvinculação das Receitas dos Estados (DRE) e a Desvinculação das Receitas dos Municípios (DRM), também com a alíquota de 25% (reduzindo com isso a base de cálculo da aplicação mínima em saúde nos Estados e Municípios), como pela PEC 031/2016 (já aprovada pela Câmara dos Deputados e Senado Federal), cuja diferença principal é a nova alíquota de 30% e dispositivo que não reduz a base de cálculo da aplicação mínima em saúde nos Estados e Municípios);
Em ambas as propostas de emenda constitucional, uma já aprovada, o risco de mitigação do dever de aplicação mínima de recursos na saúde com o esvaziamento da finalidade constitucional do Orçamento da Seguridade Social, é grave, em especial pelo fato de o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, antecipar os efeitos do teto de despesas primárias para 2017; no caso da saúde, isto significa que o PLDO 2017, aprovado pelo Congresso Nacional, mesmo que a PEC 241/2017 não seja aprovada, a aplicação mínima será calculada com base na EC 86/2016 (13,7% da RCL), limitada ao teto que não poderá ultrapassar a despesa paga em 2016, corrigida pelo IPCA.
Com a confirmação desses cenários, teremos 28 anos de tergiversação sobre o financiamento da saúde que somados aos futuros 20 anos de congelamento, totalizarão 48 anos de desrespeito ao que foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988 – saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma existência de descumprimento de cláusula pétrea de modo escamoteado.
Importante destacar que a vinculação de custeio do direito fundamental à saúde é garantia instrumental de sua eficácia material dado o histórico desfinanciamento da saúde. Alterações por emenda constitucional somente podem ser feitas para aprimorar a tutela de seu financiamento mínimo, jamais para extinguir ou mitigar o arranjo protetivo constitucional.
Na Constituição, os direitos fundamentais são amparados pela estatura de cláusula pétrea, tanto quanto o são as suas objetivas garantias processuais, por garantirem efetividade ao direito formal porque não basta o direito formal, ele há de ser cumprido! Isso implica restrição aos legisladores de regresso na garantia de direitos dessa estirpe constitucional; as cláusulas pétreas só permitem alteração em sua própria melhoria, sendo vedadas as que mitiguem ou extingam direitos. Preceito constitucional de garantia da efetividade do direito não pode ser revogado ou congelado por disposição transitória de 20 anos, uma contradição em termos.
As vinculações orçamentárias da saúde podem ser alteradas para impor medidas de melhoria da efetividade do direito, sendo inadmissível a sua revogação explícita ou implícita, como pretendem a PEC 241/2016 e a PEC 143/2015 (ora aprovada). Tal desiderato é absurdo por desconhecer que os pisos se destinam à efetividade de direitos materiais que não podem ser minorados ou negados e eles não podem se transformar em tetos congelados. Pisos congelados por 20 anos têm o mesmo efeito de inefetividade do direito que irá se apagando anualmente para resultar, sem que se fale em morte formal, a sua morte real.
Pretender uma forma de ajuste fiscal a expensas do custeio mínimo da saúde e da educação, como se o país não tivesse ainda de universalizar o acesso à educação básica obrigatória para quase três milhões de crianças e jovens; diminuir o déficit de cobertura e atendimento no Sistema Único de Saúde, como se não houvesse sofrimento de pessoas doentes ante grandes insuficiências ainda presentes nos serviços públicos de saúde, é algo que não se consegue entender.
Um país de 500 anos que somente a partir de 1988, há 28 anos apenas, passou instituir políticas públicas de bem estar social que não atendem ainda de forma universal e com qualidade sua população, não pode ver estagnada ou reduzida sua implementação. Não é crível que isso esteja sendo proposto sem discussão pública, audiência com a sociedade e outras formas do regime democrático, para em debate sério e transparente, com a participação de todos em decisões que implicam o bem estar social da população brasileira. A dívida social dos governantes com o seu povo não permite a ausência de debate público e nem a Constituição a comporta.
Qualquer restrição de recursos – a pretexto de ajuste fiscal, acerto de contas, acalmar o mercado e os investidores de capital – não poderá ter o efeito de estrangular direitos fundamentais. É o que aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo legado da Ação Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 45, desde 2004, já assegurava que não é lícita a “indevida manipulação de atividade financeira e/ou político-administrativa” do Estado para “criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência”.
Proclamar a necessidade de garantir confiança aos investidores ao arrepio da Constituição é alterá-la em seus valores sociais e humanos, como o da dignidade da pessoa, da redução das desigualdades, da solidariedade e justiça social. Esses são os fundamentos da República, alicerces que sustentam a sua arquitetura, somente alteráveis por nova assembleia nacional constituinte e que deve ser respeitada em qualquer ato governamental ou legislativo.
O desenvolvimento econômico, conforme art. 170 da CF, tem como fim diminuir as desigualdades e alcançar a justiça social. Justificar ajuste fiscal como necessário ao crescimento econômico, que difere de desenvolvimento, é ferir o cerne da Constituição que não foi escrita para atender interesses econômicos descolados do desenvolvimento humano e da diminuição das desigualdades sociais. Há quem defenda a completa autonomia das políticas monetária, cambial e fiscal – com a proposição da PEC 241 - em face das demais agendas governamentais na garantia de qualidade de vida de seu povo. Quem assim age está despregado extremadamente da ordem constitucional do país. O desenvolvimento econômico deve estar voltado para o desenvolvimento social; deve servir à sua população e não apenas a investidores.
Consequência nefasta dessa visão é a ausência de quaisquer limites fiscais para a gestão da dívida pública e para as despesas financeiras, desproporcionalmente oneradas pela política monetária (vide custo das operações compromissadas e do próprio nível da taxa de juros), bem como pelo expressivo e opaco custo das opções de política cambial (swaps cambiais e elevado estoque de reservas cambiais).
A política econômica não goza de supremacia em face da Constituição, não sendo mais importante que as políticas públicas de saúde e educação que na geografia da especificidade constitucional brasileira vem em primeiro plano, não podendo afrontar o ordenamento constitucional vigente como se pairasse acima de seus valores fundantes, mirando exclusivamente o crescimento do mercado e a tranquilidade dos investidores nacionais e internacionais em detrimento do desenvolvimento econômico e social que garante oportunidades iguais aos cidadãos e bem estar no país em que se escolheu viver.
É impensável preterir direito fundamental de preservação da vida e da dignidade humana, num quadro de intenso processo de transição demográfica, com crescimento populacional e aumento do envelhecimento das pessoas, com o avanço constante da inovação tecnológica no setor saúde e aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Não constitui novidade que todos esses movimentos tendem a pressionar ainda mais o Sistema Único de Saude (SUS) que à mingua de recursos poderá não dar respostas à altura das necessidades dos cidadãos, que serão ampliadas pela redução de recursos das demais áreas sociais, em razão do teto de despesas públicas da PEC 241/2016.
Para inibir essas propostas de precarização do financiamento da saúde, impõe-se o debate com a sociedade e a defesa jurídica necessária. Os inúmeros precedentes na extensa judicialização da saúde são parâmetros essenciais na defesa do direito à saúde, que, como reafirmado pelo próprio STF, não pode ser fraudado, frustrado ou inviabilizado pela indevida manipulação da atividade orçamentário-financeira do Estado. O desenvolvimento econômico deve estar a favor do desenvolvimento social para cumprir mandamento constitucional de diminuição das desigualdades sociais.
A Suprema Corte brasileira tem decidido de modo reiterado, como feito, por exemplo, na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, que o direito à saúde não pode deixar de ser cumprido a pretexto de reserva orçamentária possível, por ser um direito imperativo à própria proteção da vida, fim único de uma Nação; o papel primeiro do Estado é o da preservação da vida e de sua qualidade.
O fundamento da garantia do direito exigido individualmente no sistema de justiça é o mesmo da pretensão coletiva. Não são dois direitos, mas tão somente o mesmo. É chegado, pois, o tempo de apreciação judicial sobre a macrojustiça orçamentária na busca da eficácia do direito à saúde e da qualidade de vida e bem estar do cidadão. Se esse não for o fim do Estado, para quem serve o Estado: ao mercado tão somente?
Certamente caberá controle judicial de tutela coletiva sobre o financiamento constitucionalmente adequado do SUS, caso o teto fiscal da PEC 241/2016 e mesmo a desvinculação parcial da PEC 143/2015 (ora aprovada) e da PEC 31/2016, venham a ser aprovados e constranja o gasto mínimo em saúde (quando comparado a 2014 e 2015) promovendo doenças e mortes evitáveis, fatos impensáveis nas sociedades do século XXI. De tudo o que se aprendeu nessa trajetória civilizatória não será crível que a saúde humana e a vida das pessoas tenham menor valor que o mercado e o sossego dos investidores que não querem correr riscos, deixando-os para o povo.
A sociedade brasileira construiu a garantia fundamental (verdadeira cláusula pétrea) de que o direito à saúde não pode ser constrangido por limites falseados de disponibilidade orçamentária, deixando 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS sem condições de prover a sua saúde, bem como desamparando, direta ou indiretamente, todos os 202 milhões de cidadãos quanto à sua proteção e promoção promovida pelo SUS.
Há alternativas de busca de reequilíbrio fiscal, como, por exemplo, a revisão do elevado estoque de reservas cambiais, o aprimoramento da arrecadação da dívida ativa, a revisão das renúncias de receitas públicas e dos créditos subsidiados via BNDES, o combate à sonegação, a taxação de outras fontes como os dividendos e as grandes fortunas e heranças, a imposição de limites para as dívidas consolidada e mobiliária da União, a restrição ao manejo abusivo de swaps cambiais e mesmo a contenção parcial das operações compromissadas (com a sua eventual substituição pelos depósitos compulsórios, como mecanismo de contenção da liquidez das disponibilidades bancárias).
Dentre escolhas que devem ser feitas em situação fiscal recessiva, estão diversas delas, mas num país de escassa cidadania e educação para o bem estar social e igualdade de oportunidades a todos, sempre as escolhas recaem sobre as políticas sociais de garantia de direitos que se estendem mais amplamente à população que recebe até três salários mínimos (2/3 do seu total (PNAD/IBGE) e há séculos deixados em segundo plano. e certamente por mais 20 anos. Um país que canibaliza seu próprio povo por 500 anos. Vale lembrar que os recursos do orçamento da União destinados ao pagamento dos juros e encargos da dívida pública corresponderam, em 2014, a 5,6% do PIB, enquanto para a saúde (MS) foi alocado apenas 1,7%. Acrescente-se a isso o fato de que o aumento da taxa Selic – medida econômica constantemente adotada no País para contenção da inflação – contribui para o crescimento acelerado da dívida pública.
Reiteramos nosso questionamento sobre medidas alternativas de ajuste fiscal à mitigação do custeio mínimo dos direitos fundamentais à saúde e à educação, com o sincero sentimento de estarmos a viver um grande conflito distributivo na gestão dos recursos públicos em nossa sociedade. Não é aceitável que em pleno século XXI o modelo de ajuste seja o mesmo de séculos passados, sem nenhuma inovação, com prevalência da proteção do capital sobre as pessoas. As desigualdades sociais devem ser consideradas tanto quanto se considera importante o enfrentamento aos encargos da dívida.
O país é feito de pessoas que geram as suas riquezas. Congelar as despesas primárias, especialmente nas áreas da saúde e educação, por 20 anos, sem levar em conta as necessidades da sociedade como um todo e as variáveis do crescimento demográfico, envelhecimento populacional, custos crescentes dos avanços tecnológicos e científicos da saúde e, principalmente, da prevenção e controle de doenças, educação das pessoas, poderá se constituir em um desastre social. Estaremos a viver, a bem da verdade, o risco um estado de sítio fiscal, que suspende indefinidamente a eficácia dos direitos fundamentais inscritos na nossa Constituição Cidadã, ato flagrantemente inconstitucional.
Foram discutidas ou estão sendo discutidas as projeções sobre o impacto da falta de serviços públicos de saúde na sociedade? Para onde irão os 150 milhões de pessoas dependentes exclusivamente dos serviços públicos de saúde ante a sua escassez? Quantas pessoas ficarão sem escolas, quantas creches fecharão e outras que não abrirão? Quantas aposentadorias e benefícios de prestação continuada serão tidos como fiscalmente inviáveis para o sustento da pessoa idosa, a qual também não terá amparo social porque a assistência social será cortada e outras ações públicas de proteção social que não existirão? Foi proposto cortar a assistência à saúde paga pelos cofres públicos para o Poder Legislativo e Judiciário dentro do ajuste fiscal? Por que somente os mais pobres devem ter seus direitos restringidos? Por que a saúde de uns é relevante e a de outros não? Por que a renúncia fiscal de aproximadamente R$ 300 bilhões (conforme anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016) não pode ser avaliada à luz dos benefícios que estão sendo efetivamente gerados para a população em comparação ao que representará a redução proposta pela PEC 241/2016? Uma sociedade fundada na justiça social não pode fazer tal divisão.
Não se altera a alma de uma Constituição por emenda constitucional suprimindo ou mitigando a eficácia de direitos por 20 anos pela negação de seu custeio. Indisfarçavelmente está se escrevendo uma nova Constituição por emenda ao ADCT. O Congresso Nacional, como representante do povo, tem o dever de respeitar a Constituição, refutando iniciativas que contra ela militem.
O cenário atual trazido por propostas do governo nos leva a indagar se o povo conferiu-lhe a atribuição de sitiar o custeio dos direitos fundamentais. Dito de modo mais explícito: quem atribuiu à PEC 241/2016 poderes próprios de uma assembleia nacional constituinte, única politicamente capaz de desconsiderar o legado aquisitivo de quase três décadas na proteção do direito à saúde e demais direitos sociais?
É preciso que falemos com todas as letras e em bom tom: emenda constitucional que pelo ADCT imponha ao país Novo Regime Fiscal que frustre a eficácia imediata dos direitos fundamentais e mitigue os pisos de custeio da saúde, na verdade, está a escrever uma nova e retrógrada Constituição. Qualquer regime de exceção na garantia dos direitos fundamentais é inconstitucional. O povo não deu a esse Congresso Nacional, nem ao governo, poderes para tanto. O que está em xeque não é só a saúde da população, em cujo foco de defesa primordialmente ora nos concentramos, mas o próprio núcleo constitutivo da sociedade: a Constituição Cidadã.
Como se fosse uma questão de simples escolha contingente, o país parece caminhar para a reversão do modelo adotado pela Constituição de 1988. Diante da luta histórica de 28 anos para reduzir o processo (instável) de (sub) financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), as opções de enfrentamento de seu déficit durante todos esses anos têm sido parciais e míopes.
Esse lento e ardoroso processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira não pode fenecer por conta de novo ajuste fiscal, sendo imperioso que os três poderes da República se sensibilizem quanto à crise social, ao aumento das desigualdades e ao retrocesso ao bem estar-social que poderá ocorrer. O que está em jogo são os valores dessa Nação que lutou pelos direitos sociais durante séculos, não podendo agora deles abdicar em nome do ajuste fiscal que certamente desajustará o social. O valor humano deve se sobrepor ao valor do capital. Este último deve servir ao primeiro e não o inverso. Ajustes podem ser necessários desde que a balança não penda apenas para o mercado, o capital e seus investidores. O fiel dessa balança para o desenvolvimento social tem sido minimamente os pisos orçamentários constitucionais da saúde e educação.
![]() Domingueira da Saúde - 025 2016 - 28 08 2016
Domingueira da Saúde - 025 2016 - 28 08 2016
